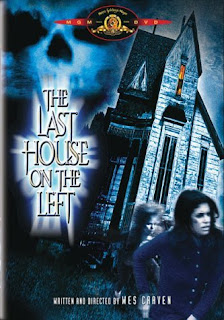Essa minha introdução pode parecer um momento baba-ovo, mas
realmente preciso dizer que, mesmo que possa até mesmo ser, não há razões pelas
quais não se justifiquem meus elogios ao Celo Silva. Conversamos não há muito,
embora já visitasse seu blog, Espectador Voraz, e lesse seus textos anteriormente e, como natural de
ser, nossa relação se estreitou depois que começamos a dividir um blog juntos, o
E o Oscar foi para..., o qual já tem quase 4 meses. Agradeço pelo selo que recebi,
acredito que ele me tenha dado mais por gostar do que eu escrevo do que apenas por termos um projeto em comum.
Além, claro, do compromisso de repassar o selo a outros blogs
que me aprazem, devo também escrever sete coisas sobre mim. Não costumo escrever
muito sobre mim aqui, porque, como já disse, apesar de se descobrir muito sobre
mim pelos textos que escrevo, o que pode ser depreendido sempre se dá através dos
meus textos, nunca através de relatos confessionais aqui apresentados. São em poucas
as oportunidades que posso (ou quero) falar de mim, então, vou aproveitar essa para
me expor um pouco mais. Vamos, então, às sete coisas que tenho a dizer sobre mim:
 |
| Stay awake up late |
1. Contei nesse post sobre o que me
motivou a gostar de filmes de terror, mas não contei uma das minhas experiências
ruins com eles. Lembro que eu era pequeno, devia ter uns 4 ou 5 anos, provável
que não mais do que isso, e estava assistindo filmes com a minha mãe na sala. Tratava-se
de uma das sequências de “A Hora do Pesadelo” (1984) que estava sendo exibida
pelo SBT. Num dos intervalos, queria ir ao banheiro, mas queria que minha mãe
fosse junto, estava com medo tanto da chuva quanto do que via no filme (talvez
já estivesse com sono, aí achei isso perigoso, vai que cochilasse no banheiro).
Por fim, atravessei o corredor, passei pela cozinha e cheguei ao banheiro – então
um trovão me fez percorrer todo o caminho de volta em um terço do tempo que
gastei para ir e cheguei na sala chorando. Superado o choro, fui ao banheiro e
retornei pra ver o filme.
 |
| Se tudo der errado, viro eletricista. |
2. Eu já fiz inúmeras coisas inúteis
e outras não tão inúteis na minha vida. Hoje faço Letras e penso que não
poderia ter escolhido outro curso, seja porque gosto de estudar Literatura e Lingüística,
seja porque pretendo mesmo seguir a carreira de docente. No entanto, já fiz
muitas coisas que não têm nada a ver com isso: já fiz SENAI (Eletricista de
Manutenção); já fiz escola técnica (Eletroeletrônica); já fiz aulas de teclado
e quis ter aprendido piano, aí minha falta de talento me convenceu de que não
valeria a pena; já fiz dança (balé e jazz, sobretudo; por cerca de 11 anos); já
fiz curso de teatro, tendo apresentando belíssimas peças (numa peça, eu fui
simplesmente o mal, na sua forma mais
abstrata, nem tinha falas!); já fiz curso de montagem e manutenção de
computadores. Disso tudo, hoje só sei dançar e, talvez, atuar, já que não sei
mais nada de nenhuma dessas outras coisas – não sei nem trocar o resistor do
chuveiro.
 |
| Exemplar do mau gosto. |
3. Não gosto de ratos. Não falo de hamsters, mas daquelas criaturas
terríveis que surgem esporadicamente e que nos assombram por um mês, porque,
mesmo quando se pensa que foram erradicados, a atmosfera ruim trazida com eles
permanece no lugar. Minha aversão é proporcional ao tamanho do animal e do seu
rabo. Também tenho medo de altura. Ela e eu definitivamente não nos damos bem,
embora eu não saiba nem sequer sugerir uma hipótese para esse meu medo. Nem
falo de alturas impressionáveis; falo de dois metros mesmo, isso basta para me
deixar apreensivo. Por fim, tenho verdadeiro temor de elevadores. Aí, claro,
isso infelizmente está associado ao meu outro medo, já citado aqui: elevador e
altura sempre vêm juntos, afinal. Esse talvez seja o maior deles – ainda que
receoso, convivo com ratos, ainda que com desprazer, enfrento altura, mas acho
desesperador estar num elevador, mesmo que haja alguém comigo. E são ainda
piores aqueles que, por um motivo decorativo, possuem uma das paredes de vidro,
te permitindo olhar para fora. E são também reprováveis, mesmo que em menor
escala que os elevadores com paredes de vidro, os amigos que moram no 14º
andar.
 |
| Gosto porque eles se pegam. |
4. Gosto de filmes. Simples assim. Óbvio
que há aqueles que eu adoro, óbvio que há aqueles diretores cujos filmes sempre
são um deleite para mim e óbvio que há estéticas que mais me impressionam e das
quais mais gosto. “A Malvada”, por exemplo, é uma obra que me agrada
profundamente, ainda que já a tenha visto pelo menos 10 vezes. Kevin Smith é um
diretor que sabe discutir aspectos sociais e ontológicos de modo interessantes,
não é à toa que duas das melhores críticas à pessoa (“Procura-se Amy”, 1997) e à
sociedade (“Seita Mortal”, 2011) foram dirigidas por ele. No entanto, reclamo o
direito de poder simplesmente assistir aos filmes que quiser e de gostar
daqueles que eu achar que sejam bons o suficiente para merecer minhas
recomendações – isso significa que o meu “bom” pode englobar tanto o meu filme
preferido quanto obras como “Segundas Intenções” (1999), que, se avaliado
friamente, facilmente poderia ser classificado como um filme de adolescentes.
 |
| "Estou muito feliz por você!" |
5. Já me disseram que eu sou
inexpressivo. Também já ouvi que sou randômico (difícil é entender como isso se
aplica à vida de alguém). Também já ouvi – aliás, da mesma pessoa que disse que
eu sou uma pessoa “aleatória” – que sou blindado sentimentalmente, isso
significa que eu não conseguiria ter um relacionamento. Discordo de tudo isso:
sou muito expressivo e carismático, além de ter total controle das minhas ações,
o que não me torna randômico nas situações da vida. E quanto aos
relacionamentos, não os quero por enquanto, ainda que não descarte uns flirts e alguns rendez-vous.
 |
| Metáfora para a vida. |
6. Acho que o mundo é uma fraude, em
qualquer área que se queira analisá-lo. Vejamos a universidade: você não
precisa saber nada de verdade para estar ali assim como não precisa saber para
se formar e, por conseqüência, também não precisa saber para dar aulas (às
vezes, na própria universidade) e assim promover essa maravilhosa
retroalimentação do não-saber encorbertado pelo migué. O mesmo para qualquer
outra coisa da vida: não preciso ver filmes para escrever sobre eles; não
preciso conhecer de música para analisá-la. De tudo que sei, talvez o migué
seja a aptidão que eu mais aprimoro e faço isso diariamente. Hoje mesmo dei
migué em mim e me fiz acreditar que eu estaria bem ficando em casa, agora já até
selecionei alguns filmes para assistir e vou ter uma noite maravilhosa como se
fosse isso mesmo que eu realmente quisesse.
 |
| Só um braço? Será? |
7. Gosto de escrever e sou bastante
imaginativo, então isso casa bem. Normalmente escrevo contos, mas comecei algo
que eu me fiz acreditar ser um romance, que, evidentemente, abandonei em algum
momento do caminho. Hoje escrevo contos e gosto especialmente dos temas mais “difíceis”
e o termo inclui várias coisas: desde o gosto pelo incesto e pelo estupro até o
braço – sim, um dia eu decidi que eu precisava escrever (e tornar interessante)
a descrição de um braço. E escrever implica não apenas o apreço pela ficção,
mas também pela opinião, justamente por isso tenho esse meu blog e aquele
citado no começo desse post.
Agora, finalmente, vamos aos blogs aos quais passarei esse
selo. São eles A Mosca Branca, do colega cinéfilo Márcio Santos, e Parada Obrigatória, do colega Leonardo, o qual conheci ainda na época que tinha o blog
alojado em outro servidor.
Abraço.